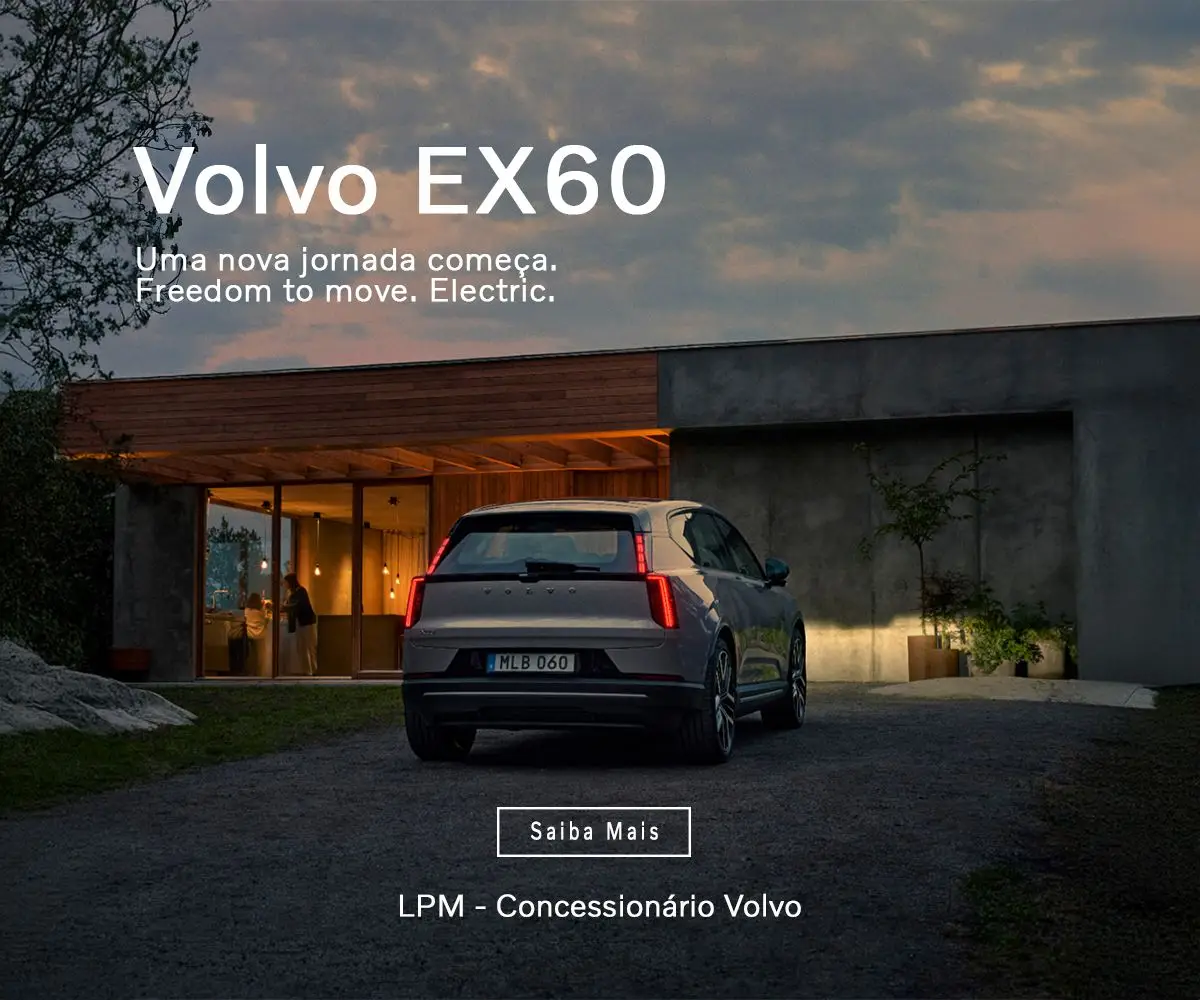Rui Madeira: o encenador ribatejano que não esquece as suas raízes

Natural da Romeira, Santarém, o actor e encenador Rui Madeira dirige há mais de quatro décadas a Companhia de Teatro de Braga. De passagem por Santarém, trouxe uma leitura contemporânea do “Auto da Barca do Inferno”, expondo ainda a O MIRANTE inquietações sobre a cultura e a falta de dinamização de Santarém.
Natural da Romeira, no concelho de Santarém, Rui Madeira não se desvincula das suas origens, por mais quilómetros, palcos internacionais ou décadas fora do Ribatejo que o percurso lhe tenha acrescentado. Vive em Braga há mais de 45 anos, dirige uma das mais consistentes companhias de teatro da cidade e do país, a Companhia de Teatro de Braga, trabalha regularmente fora de Portugal, mas continua a afirmar-se, sem hesitações, como “ribatejano de gema”. Volta sempre que pode à Romeira, onde a mãe ainda vive e onde está actualmente a recuperar uma casa antiga, guardando uma relação afectiva profunda com a terra que afirma ter moldado a sua formação e personalidade.
Sobre Santarém, fala com cautela, mas não esconde a tristeza de que uma cidade a 60 quilómetros de Lisboa, não tenha mais dinâmica e esteja algo desertificada, “sem perspectivas”, na sua opinião. Não atribui a si o direito de dar conselhos aos políticos, porque não vive o quotidiano local, mas deixa no ar algumas preocupações. “Não se percebe como é que a cidade está deserta. (…) Não tenho condições para fazer críticas muito objectivas porque nem sequer estou cá. E eu sou daqueles que acham que quando se fazem críticas têm de ser sustentadas. Estou mais preocupado em finalmente ter as licenças para fazer as obras de recuperação da minha casa”, diz.
Rui Madeira confessa que as suas relações com a comunidade do teatro em Santarém são praticamente nulas, residuais. “Saí daqui muito cedo, há cerca de 51 anos. Tenho amigos meus da época de estudos, mas com o teatro nem por isso. Algumas pessoas que conheci entretanto faleceram, já não tenho grandes contactos. Uma das pessoas responsáveis por eu estar no teatro foi uma professora de português que tive, uma mulher genial minha amiga, a Mariana Viegas. Era a mãe de Mário Viegas, de quem eu fui amigo e convivemos os dois no teatro, mas já não em Santarém, noutros locais”, conta.
Quando pensa em Santarém, regressam memórias da juventude, que lhe despertam um sorriso no rosto. Recorda-se dos tempos em que praticava atletismo, a poesia, o teatro e de quando participava nos círculos culturais de oposição, explicando que chegou a integrar a primeira comissão que aboliu a Mocidade Portuguesa e criou o FAOJ (Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis). “Essas memórias não se apagam, são memórias que estão na formação de uma personalidade. Portanto, eu digo que sou de Santarém e que sou ribatejano de gema sem preconceitos”, vinca.
No que toca à sua freguesia, critica também a junção das freguesias de Romeira e Várzea, dizendo em tom de brincadeira que é da República Socialista da Romárzia. “Sou contra a Lei Relvas, acho isso uma parvoíce do ponto de vista da identidade das pessoas. As aldeias têm a sua própria identidade, não é a régua e esquadro”, comenta.
“Somos pagos para levantar questões”
Foi neste regresso recente ao território de origem que trouxe a Santarém, nos dias 8 e 9 de Janeiro, uma versão contemporânea da peça “Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente, numa produção da Companhia de Teatro de Braga, da qual é fundador e director artístico. A peça subiu ao palco do Teatro Sá da Bandeira e foi direccionada, sobretudo, ao público escolar, que Rui Madeira entende como uma responsabilidade ética e política de todas as companhias de teatro financiadas com dinheiros públicos.
“Financiamento à criação artística e teatral é também um financiamento aos públicos e isso implica não irmos só a favor daquilo que as pessoas já gostam, mas sim fazer novas abordagens”, salienta. “Somos contra aqueles espectáculos que são leituras encenadas e pouco mais. Isso é pouco, nós não somos pagos para isso. Somos pagos para levantar questões”, destaca Rui Madeira. O espaço cénico, situado numa “terra de ninguém”, assume a marginalidade como ponto de observação, inspirada nas margens sociais das favelas do Rio de Janeiro, transformando-se as duas barcas em agências de viagem — Solar Paraíso e Diablo Tours — num retrato mordaz de “pessoas permanentemente em trânsito, à procura do paraíso, mas que caem sempre no inferno”.
A Companhia de Teatro de Braga, fundada há 45 anos, é hoje uma estrutura sólida, com cerca de 20 pessoas, incluindo dez actores fixos, que trabalham a um ritmo de 130 a 150 espectáculos por ano, muitos deles fora de Portugal. Apesar da estrutura sólida conquistada ao longo dos anos, Rui Madeira não rejeita que haja dificuldades sem apoios públicos, mas salienta que a longevidade da companhia explica-se pelas escolhas artísticas e qualidade dos espectáculos.
“Nunca fomos considerados uma companhia popular. Sempre trabalhámos coisas fora do esquema. A nossa diferença está aí, na energia dos espectáculos e na forma de os fazer”, sublinha. Já no que toca a políticas públicas e ao estado da cultura em Portugal, o encenador tem um discurso mais duro, alertando que actualmente o ensino e o acesso à cultura não é democrático e que o país continua preso a uma lógica, vinda dos tempos do antigo regime, de substituição da formação cultural pelo entretenimento fácil.
“O que nós estamos a assistir é uma espécie de mainstream no país, de contratar coisas e elas são todas iguais, quando se deve alargar cada vez mais aos cidadãos a possibilidade de criar gosto pelas coisas culturais. Mas isso não se faz de forma espontânea, faz-se com políticas e estratégias culturais. E tem que começar na escola”, destaca.