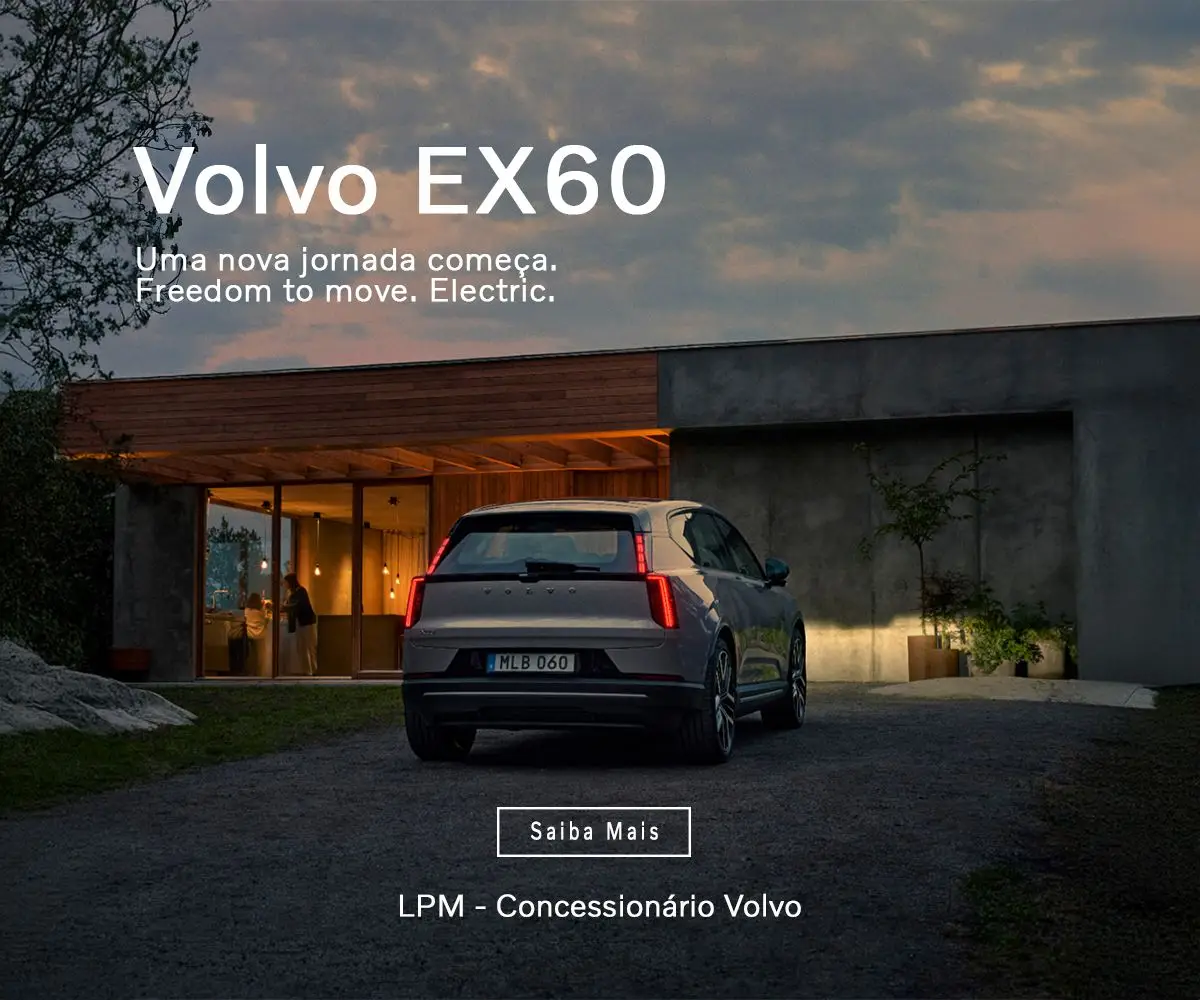O problema não é a existência de bullies. É a incapacidade dos sistemas em deixar de os recompensar

Os diplomatas não são ingénuos. Os decisores não são ignorantes. As instituições não “não sabem”. O que falha não é a inteligência individual, mas a arquitetura coletiva em que se vive. Um sistema que exige reação constante, visibilidade permanente e posicionamento público imediato penaliza a contenção silenciosa e premia a resposta performativa.
A maioria das análises sobre bullies - sejam indivíduos, grupos ou Estados - começa no lugar errado. Discute intenções, traços psicológicos ou legitimidade moral. A pergunta decisiva é outra, e é empiricamente verificável: em que sistemas a agressão continua a produzir retorno suficiente para se tornar uma estratégia racional?
Antes de ser um aluno, um líder político ou um Estado, um bully é uma posição relacional. Não é uma patologia nem um desvio moral. É uma função que emerge quando o comportamento agressivo melhora, de forma consistente, a posição do agressor no sistema.
Este padrão é estável e observável. Em sociedades humanas e pré-humanas, o bully não é necessariamente o mais forte ou o mais violento, mas aquele cuja agressão gera benefícios recorrentes: estatuto, recursos, atenção, medo ou centralidade simbólica. Onde esses retornos não existem, a agressão não se fixa como estratégia. A variável constante não é a personalidade do agressor, mas a arquitetura de incentivos do sistema.
Daí um erro recorrente dos sistemas contemporâneos: assumir que punir é o oposto de recompensar. Na prática, o castigo falha sempre que funciona como recompensa secundária; falha quando aumenta a notoriedade do agressor, reforça lica ou confirma a sua capacidade de provocar reação.
Em ecologias sociais complexas, não existe atenção neutra. Atenção é um recurso escasso. Sempre que a resposta pública melhora a posição relacional do mais forte - mesmo com custos materiais reais - o comportamento agressivo torna-se adaptativo. É a lógica simples de quem continua a ir ao mesmo poço enquanto ainda dá água, mesmo que venha barrenta.
Este mecanismo é observável em múltiplos níveis. É o mesmo mecanismo que se observa numa escola quando um aluno agressivo, mesmo punido, ganha estatuto porque passa a ser falado, temido ou antecipado — a punição não o retira do centro; fixa-o lá. Em ambientes digitais, práticas de exposição amplificam agressores. Em política internacional, sanções amplamente publicitadas mostram um padrão semelhante: podem produzir custos reais e, ainda assim, aumentar o retorno simbólico e narrativo do agressor visado.
As sanções impostas ao Iraque nos anos 1990 enfraqueceram a população civil e reforçaram o controlo interno do regime. As sanções aplicadas à Rússia após 2014 e 2022 tiveram impacto económico mensurável, mas também consolidaram uma narrativa de cerco externo que estabilizou poder político interno e reduziu incentivos à moderação. Em ambos os casos, a agressão não precisou de vencer militarmente para se manter funcional; bastou organizar o campo mediático à sua volta.
Na geopolítica contemporânea, a agressão não persiste por falta de condenação, mas porque continua a produzir retorno político, simbólico e estratégico. Em termos simples, o conflito deixa de ser apenas um problema a resolver e passa a ser o eixo em torno do qual tudo se organiza: decisões, alianças e discursos.
O padrão repete-se em conflitos atuais, incluindo a guerra entre Rússia e Ucrânia, a escalada cíclica no Médio Oriente, em particular em torno de Gaza, e a rivalidade estrutural entre Estados Unidos e China.
Quanto mais o confronto é transformado em espetáculo moral e mediático, maior a capacidade dos atores agressivos de consolidar coesão interna, prolongar a duração do conflito e estabilizar posições de poder.
Isto ajuda a distinguir sanções que apenas sinalizam de sanções que alteram comportamento. Medidas com maior eficácia histórica tendem a retirar simultaneamente três dimensões de retorno: material, simbólica e narrativa. Por isso são frequentemente graduais, técnicas, fragmentadas e menos dependentes de anúncio público. Funcionam não porque punem mais, mas porque reduzem o retorno total disponível.
Nem todo bully é narcisista. Nem todo agressor é psicopata. Mas sistemas que recompensam a lei do agressor selecionam perfis com baixa empatia, elevada tolerância ao conflito e capacidade de instrumentalizar reações. Isto não é diagnóstico clínico; é seleção cultural observável.
Não recompensar um bully não significa não agir. Significa agir de forma a reduzir o retorno sistémico da agressão. Historicamente, isso foi feito por quatro vias reconhecíveis.
Primeiro: retirar ao agressor o controlo do ritmo. Quem acelera decisões e impõe urgência ganha vantagem. Sistemas estáveis recusam reagir em tempo imposto.
Segundo: impedir que a agressão reorganize o campo social. A violência só é eficaz quando divide, polariza e cria alinhamentos por medo. Onde o grupo não se reestrutura, o retorno diminui.
Terceiro: oferecer alternativas legítimas de estatuto. Onde o reconhecimento só é acessível pela força, a violência torna-se racional. Onde existem múltiplas vias de prestígio, a agressão perde atratividade.
Quarto: controlar a visibilidade. A agressão precisa de plateia. Sociedades que limitaram a exibição pública da força reduziram a sua utilidade estratégica.
É por isso que isto é difícil hoje. O sistema global contemporâneo recompensa visibilidade, acelera reações, dramatiza conflitos, concentra estatuto e confunde atenção com poder. É um ambiente onde a agressão é frequentemente uma estratégia racional. Os sistemas não falham por tolerarem a agressão; falham por continuarem a torná-la funcional.
Os diplomatas não são ingénuos.
Os decisores não são ignorantes.
As instituições não “não sabem”.
O que falha não é a inteligência individual, mas a arquitetura coletiva em que se vive. Um sistema que exige reação constante, visibilidade permanente e posicionamento público imediato penaliza a contenção silenciosa e premia a resposta performativa. Nestas condições, mesmo atores racionais alimentam dinâmicas que reconhecem como contraproducentes, porque o custo de não reagir visivelmente pode ser mais alto do que o custo de reagir mal.
Quando a agressão não é desincentivada, mas apenas contida, o sistema não entra em paz - entra em acumulação. A resposta deixa de ser transformação e passa a ser preparação.
É assim que surgem as corridas ao armamento: não como falha de lucidez, mas como consequência lógica de arquiteturas que já não conseguem retirar retorno à ameaça.
Foi assim antes da Primeira Guerra Mundial. Foi assim durante a Guerra Fria.
E os sinais repetem-se hoje, com aumento sustentado de gastos militares, re-industrialização bélica e normalização da expectativa de conflito prolongado.
A corrida ao armamento não existe porque não sabemos fazer melhor. Existe porque fazer melhor exige abdicar de formas de poder que ainda consideramos necessárias. E leva tempo.
Na geopolítica contemporânea, a agressão não precisa vencer guerras;
basta organizar o sistema internacional à sua volta.
A experiência europeia das últimas décadas deixou duas lições simples, mas difíceis de integrar.
A primeira é que o comércio, por si só, não impede a agressão quando não existe capacidade real de impor limites.
A segunda é que reagir tarde, apenas quando o conflito já domina o ritmo político e mediático, tende a aumentar a escalada em vez de a travar.
Em termos práticos, enquanto a agressão continuar a compensar, continuará a ser usada.
Até no futebol se sabe que um jogo feito só de faltas e expulsões não ganha campeonatos. A questão é quando é que o sistema decide mudar de tática.
Alexandra Azevedo de Carvalho
Antropologia geopolitica –
estudo do poder como comportamento humano, à escala internacional